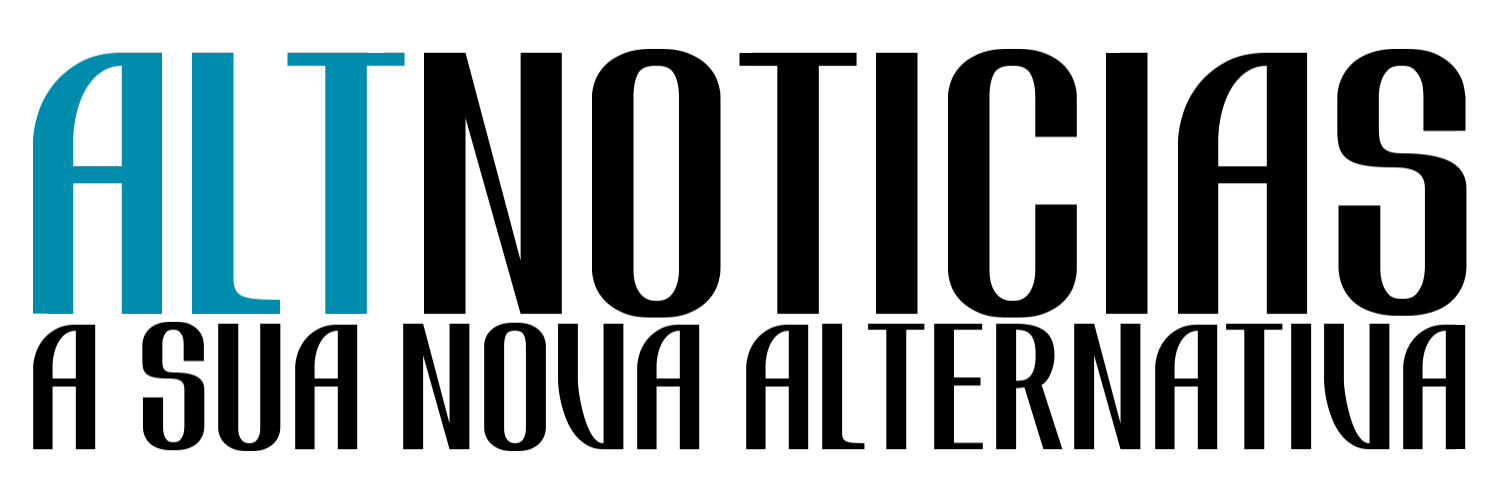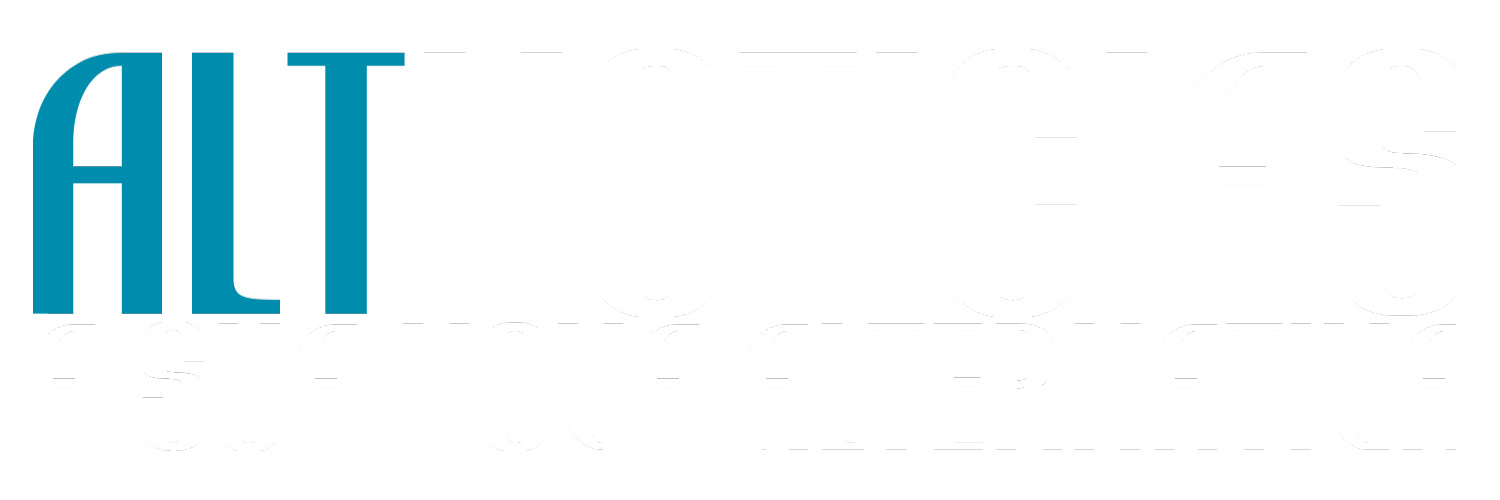John Plender
A desigualdade econômica nos Estados Unidos alcançou o nível mais elevado desde aquele que ficou conhecido como o mais maldito dos anos: 1929. Nas principais economias dos países de língua inglesa as desigualdades de renda alcançaram extremos que não eram vistos desde a era de “O Grande Gatsby”.
De forma bem semelhante ao que ocorre nesta década, os anos 1920 foram um período de vigoroso aumento dos lucros corporativos e do endividamento familiar. Nadando em dinheiro fácil, Wall Street foi fisgada por aquilo que o economista J.K. Galbraith, no seu original trabalho subseqüente sobre o período – “The Great Crash” (“O Grande Crash”) -, chamou de “the magic of leverage” (“a mágica da alavancagem”): a capacidade de elevar os lucros pegando dinheiro emprestado.*
Wall Street, em Nova York, em 1929
As empresas de investimentos forneceram o veículo para este carrossel financeiro, no qual uma destas empresas “bancava” uma outra, que por sua vez fazia o mesmo com uma próxima. Esta multiplicação embaralhada da assunção de riscos traz uma semelhança notável com a fragmentação de riscos nos atuais mercados de crédito baseados em drásticas alavancagens.
Na década de 1930, isso terminou com a bancarrota de bancos e a Grande Depressão. Agora, após décadas de “financialização” nos Estados Unidos e outras economias anglófonas, por meio da qual os serviços financeiros elevaram a sua fatia do produto interno bruto, os bancos estão sendo resgatados – com o uso de dinheiro público – na tentativa de garantir que a mesma coisa não volte a acontecer.
Sob uma perspectiva política, o aspecto notável da era de mercado livre e de desigualdades que teve início na década de 1980 é a exigüidade de reações contra a estagnação dos rendimentos dos cidadãos comuns em uma parcela tão grande da economia do mundo desenvolvido. Mas há sinais de que a mistura de políticas e circunstâncias econômicas que proporcionaram um prolongado laisser-passer aos ricos e ao empresariado está chegando ao fim.
Este é um território potencialmente perigoso. Porque, conforme argumentou Bill Gross, diretor-gerente do Pimco, o maior fundo de títulos do mundo: “Quando os frutos do trabalho da sociedade tornam-se mal distribuídos, quando os ricos ficam mais ricos e as classes média e baixa lutam para manter a cabeça acima da linha d”água, conforme ocorre nitidamente nos dias de hoje, o sistema acaba desabando. Os diversos barcos não ascendem de forma conjunta com a maré; o centro é incapaz de se sustentar”.
A questão é determinar o que acontecerá com a criação de riquezas, as avaliações do mercado de ações e o crescimento econômico se, conforme parece cada vez mais provável, houver uma redução drástica da tolerância popular em relação à desigualdade econômica e àquilo que é chamado genericamente de modelo de capitalismo de livre mercado.
O ponto inicial para qualquer análise desta questão é inevitavelmente os Estados Unidos, onde uma combinação de recessão, crise financeira e eleição presidencial trouxe várias das questões para a frente principal do debate político.
Um dos maiores indicadores da desigualdade é o chamado coeficiente Gini. O número do Departamento do Censo dos Estados Unidos para este índice em 2005 foi, de acordo com Gary Burtless, da Brookings Institution, o maior já registrado, o que significa a existência de extrema desigualdade. Uma análise dos números do Departamento Congressual do Orçamento por Jared Bernsteins do Instituto de Política Econômica aponta para uma direção similar. Entre 1979 e 2005 a renda, antes do pagamento dos impostos, dos domicílios mais pobres aumentou 1,3% ao ano, e a da classe média cresceu 1% ao ano. Já a renda daqueles indivíduos que compõem o grupo dos 1% mais ricos aumentou 200% antes do desconto de impostos e, o mais surpreendente, 228% após os impostos.
O resultado desta distribuição desequilibrada do crescimento da renda foi que, em 2005, a renda média após o pagamento de impostos do grupo que compõem o quinto mais pobre da população era de US$ 15.300, a do quinto intermediário de US$ 50.200, enquanto a dos 1% mais ricos foi superior a US$ 1 milhão.
Vendo a coisa sob um outro ângulo, em 1979 a renda pós-impostos dos 1% mais ricos era oito vezes superior àquela das famílias de renda média, e 23 vezes maior do que a do quinto mais pobre da população. Já em 2005, essas proporções aumentaram respectivamente para 21 e 70 vezes. Esse processo atingiu o seu ponto extremo com as reduções de impostos promovidas pelo atual presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Emmanuel Saez, da Universidade da Califórnia em Berkeley, calcula que durante a expansão econômica de 2002 a 2006 o topo plutocrata da pirâmide, que corresponde a 1% da população, obteve quase três quartos do crescimento da renda.
Indicadores da riqueza, oriundos da Pesquisa de Finanças dos Consumidores feita pelo Federal Reserve (o Fed, o banco central dos Estados Unidos), são menos atualizados, mas o quadro oferecido é similar. A fatia da riqueza dos Estados Unidos detida pelo 1% dos domicílios que ocupa o topo da pirâmide, subiu continuamente de 20% em 1976 para 38% em 1998. A concentração de renda é mais extrema do que em qualquer outro país da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para o qual existem estatísticas disponíveis.
Embora alguns economistas questionem a integridade dos dados oficiais sobre a desigualdade, é difícil lançar dúvidas sobre esta tendência ampla percebida no decorrer do tempo – e embora as causas do alto nível de desigualdade de renda ainda sejam objetos de debates, há pouca dúvida de que a globalização contribuiu para este fenômeno. Em um ambiente cada vez menos sindicalizado, os trabalhadores norte-americanos foram alijados do mercado de trabalho global à medida que as fábricas transferiram a sua produção para países de baixo custo, como China, Índia e México.
Ao mesmo tempo, e mais importante, uma elite de indivíduos de altas rendas, especialmente em diretorias de finanças e conselhos administrativos em todo o país, experimentaram um aumento explosivo dos seus pagamentos, sendo que esses prêmios são cada vez mais oriundos das ações normais ou com opções de venda. Outras explicações incluem mudanças tecnológicas e o impacto da internacionalização dos mercados nos salários dos executivos mais bem pagos.
Os políticos ampliaram o fenômeno através do sistema federal de impostos. Da Grande Depressão até o início da década de 1980, o sistema tributário dos Estados Unidos favoreceu os trabalhadores de renda baixa ou média, em detrimento daqueles com altos rendimentos. Mas, a partir do governo Reagan, este padrão foi modificado.
Uma parcela desproporcional dos ganhos com renda, tanto sob os governos republicanos quanto sob os democratas, passou a ir para o bolso dos indivíduos de maior renda – uma política que foi apelidada pelo economista Paul Krugman de “Robin Hood às avessas”. No mundo pós-Guerra Fria esta abordagem ficou evidente nas atitudes gerais dos mercados, das empresas e dos ricos. Após as políticas de desregulamentação dos governos de Ronald Reagan e de George H.W. Bush, o próprio democrata Bill Clinton revelou-se um conservador no campo fiscal. Embora no início do seu governo tivesse aumentado os impostos, ele depois reduziu a tributação sobre ganhos de capital de 28% para 20% e instaurou o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta).
No Reino Unido, onde economistas do Instituto de Estudos Fiscais identificaram uma tendência crescente de desigualdade de renda, que chegou a níveis históricos desde que os trabalhistas assumiram o poder em 1997, a questão não gerou tanta controvérsia. Quando era primeiro-ministro, Tony Blair declarou que garantir que o jogador de futebol David Beckham ganhasse menos não era uma das suas maiores ambições. Peter Mandelson, um dos arquitetos do Novo Trabalhismo britânico, ficou famoso por ter observado que o partido sentia-se “intensamente tranqüilo quanto ao fato de certas pessoas ficarem escandalosamente ricas – contanto que estas pagassem os seus impostos”. Os dois desviaram-se do seu caminho político original para cortejar o empresariado, da mesma forma que Gordon Brown, quando o atual primeiro-ministro era chanceler do Tesouro Público.
Até mesmo em países de língua inglesa nos quais há uma cultura mais igualitária, esta tendência à desigualdade é real. No início do século 21, segundo Anthony Atkinson e Andrew Leigh, a parcela de renda dos 1% mais ricos da população australiana era maior do que em qualquer outro período desde a Guerra da Coréia.**
No Canadá, que permanece mais sindicalizado do que o seu vizinho, a onda de altos salários veio mais tarde, e foi mais concentrada do que nos Estados Unidos. Emmanuel Saez e Michael Veall vêem uma explicação para isto baseada no fenômeno da fuga de cérebros: a ameaça de migração de executivos e profissionais canadenses de alta qualificação para os Estados Unidos pode ter provocado esse surto.***
Políticas econômicas liberais pareceram atraentes para os políticos pragmáticos da esquerda moderada porque elas pareciam resultar em altos índices de crescimento econômico. Quanto aos ricos, eles contribuíram bastante para a arrecadação fiscal. Chris Watling, do Longview Economics, observa: “É evidente que com um número tão pequeno de trabalhadores dando uma contribuição tão importante para a arrecadação tributária, é da mais alta importância para o governo estabelecer políticas que não ameacem tal arrecadação. É desta forma que se entende a atual situação de um governo trabalhista no Reino Unido, que, há mais de dez anos no poder, não promoveu aumentos de impostos para os ricos, mas elevou significativamente a carga tributária sobre a classe média, sobremaneira através de impostos ocultos”.
Mas por que será que este longo período de desigualdade crescente e de rendas estagnadas tem sido tolerado pela maioria dos eleitores? A resposta é que em todos os grandes países de língua inglesa, o padrão de vida desvinculou-se da renda. Em um período de crescimento econômico estável e de baixa inflação, conhecido pelos economistas como “a grande moderação”, indivíduos de renda média e baixa contraem prontamente mais dívidas, enquanto devoram as suas poupanças.
Os preços ascendentes dos ativos, especialmente no mercado imobiliário, criaram uma sensação de aumento de riqueza, independentemente da renda. A renegociação das hipotecas durante o longo período de redução das taxas de juros proporcionou uma fonte de fundos conveniente através da utilização de equities para o financiamento do consumo crescente.
Subitamente todo esse quadro mudou e, com isso, o cálculo político. O colapso do mercado imobiliário norte-americano deixou um rastro de equities negativas. Para muitos, o custo de morar está aumentando mais do que os salários. As casas não podem mais ser utilizadas como cofres de dinheiro e as poupanças precisam ser reconstruídas. A “financialização” está dando marcha à ré, e o setor financeiro não é mais capaz de turbinar o crescimento econômico. Fora dos Estados Unidos este processo está menos avançado, mas a tendência é clara.
Tendo como pano de fundo um cenário econômico mais do que preocupante, a falta de correlação entre o desempenho das empresas e os rendimentos estratosféricos de certos indivíduos começa a irritar a população. Os exemplos de Stan O”Neal, do Merrill Lynch, e Chuck Prince, do Citigroup, que pareceram ter sido recompensados pelo fracasso, exacerbaram essa irritação. Em outras plagas, até mesmo quando tais prêmios são modestos segundo os padrões dos Estados Unidos, como no caso do pagamento de 760 mil libras esterlinas a Adam Applegarth, ex-diretor-executivo da Northern Rock, uma financiadora de hipotecas agora nas mãos do governo britânico, o fenômeno causa igual, ou maior, indignação.
Há também a raiva em relação a um sistema que permite que os banqueiros embolsem enormes bônus quando as finanças estão a pleno vapor, enquanto os contribuintes pagam a conta quando os bancos fracassam. O modelo de capitalismo anglo-americano baseado no mercado parece estar enodoado, e uma dúvida esquisita paira sobre o processo de livre mercado. As empresas mais uma vez enfrentam um problema de legitimidade, conforme aconteceu quando se apropriaram de recursos públicos após o colapso da Enron. O pacto implícito entre os negócios e a política está rompendo-se.
A eleição presidencial norte-americana revelou até que ponto o clima mudou. Na busca da indicação democrata, Hillary Clinton atacou estridentemente as companhias de petróleo, medicamentos e de seguro-saúde. Ela manifestou sérias reservas em relação ao Nafta, um legado embaraçoso do seu marido, e opõe-se à renovação dos cortes de impostos para os ricos, uma política instituída por George W. Bush. Barack Obama, que critica veementemente a desigualdade, vai um passo além em uma plataforma similar, ao pedir a elevação do limite de renda taxada destinada ao social security (a previdência social dos Estados Unidos). Grande parte da velha batalha retórica entre esquerda e direita está ressurgindo nesta campanha, trazendo consigo uma forte indicação de reversão, no campo dos democratas, para as políticas de velho estilo do tipo taxar e gastar.
Enquanto isso o governo do Reino Unido gerenciou mal a sua tentativa de extrair mais impostos de estrangeiros que não estão domiciliados no país com objetivos fiscais, enviando, desta forma, de forma involuntária, um sinal de que Londres não mais recebe de braços abertos os investidores estrangeiros. O tema subjacente foi a necessidade de elevar os impostos em um nicho fiscal apertado. Parece que as empresas serão os bodes expiatórios dessa modificação das regras tributárias.
Preocupações crescentes com a desigualdade foram ecoadas por um punhado de empresários do setor privado. Em um evento para arrecadação de verbas para a campanha de Hillary Clinton, em dezembro do ano passado, Warren Buffett, o guru dos investimentos e o homem mais rico do mundo, de acordo com a revista “Forbes”, manifestou preocupações quanto à desigualdade de renda e a um sistema tributário cujo caráter redistribuidor é insuficiente. No Reino Unido, Nicholar Ferguson, presidente do SVG Capital, que investe em private equity, provocou furor entre os seus colegas ao afirmar ser injusto que os executivos do ramo arquem com índices tributários inferiores aos das suas faxineiras.
Na verdade, esta reação contra a desigualdade não se restringe aos países de língua inglesa. Pelos padrões dos Estados Unidos ou do Reino Unido, a desigualdade no Japão é insignificante. Mas, não obstante, ela foi elemento central da crítica do Partido Democrático do Japão (PDJ) ao governo do Partido Liberal Democrata (PLD) na eleição de julho do ano passado, quando o PDJ conquistou a maioria das cadeiras no congresso japonês.
Cresce no Japão uma reação política contra o fluxo livre de capital global. No ano passado o governo ampliou, alegando motivos vinculados à segurança nacional, a lista de setores nos quais a participação acionária dos investidores estrangeiro acima de 10% em determinada companhia exige sanções regulatórias.
O medo dos predadores estrangeiros, sejam eles os fundos soberanos, os fundos de hedge ou companhias multinacionais, também ajuda a explicar uma recente declaração de Takao Kitabata, um alto burocrata do Ministro da Economia, Comércio e Indústria. Kitabata afirmou que as companhias japonesas precisam ser capazes de selecionar os seus acionistas porque tais pessoas são “instáveis, irresponsáveis e gananciosas”. Enquanto isso o governo japonês nada fez para impedir uma inciativa das empresas do país de adotar defesas do tipo “pílula de veneno” para impedir as aquisições por empresas estrangeiras.
Na Alemanha, onde a filosofia igualitária também é forte, o relacionamento do governo liderado pelos democratas-cristãos com as empresas também passou por uma reviravolta. Quando na oposição a chanceler Angela Merkel era uma aguerrida defensora do empresariado, chegando até mesmo a ter defendido Klaus Esser, o ex-diretor do grupo de telecomunicações Mannesmann, que foi condenado por auferir um lucro multimilionário com a venda da companhia para a britânica Vodafone. Ela também criticava bastante o velho sistema alemão de negociação salarial coletiva.
Mas ultimamente Merkel vem ameaçando o empresariado alemão com a imposição de salários mínimos em diversos setores caso as empresas descartem as negociações coletivas e empurrem os salários para baixo. Esta é uma resposta populista à pressão eleitoral. Além das suas inseguranças quanto ao salário, os eleitores vêem com preocupação as atividades de empresas estrangeiras de private equities e fundos de hedge. Agora os alemães estão furiosos devido à revelação de que líderes empresariais sonegaram impostos usando contas secretas em Liechtenstein. Tudo isto tem sido acompanhado de um debate matizado de protecionismo a respeito da ampliação dos investimentos estrangeiros.
Nem todos os países encaixam-se neste padrão. Mas a reação pública pode ser a mesma. Na França, o presidente Nicolas Sarkozy é bastante criticado pelo seu relacionamento estreito com empresários milionários. Ele está procurando implementar aquelas que, para os padrões franceses, são políticas econômicas bastante liberais, que, caso sejam bem-sucedidas, poderão aumentar a desigualdade. Mas em um país no qual os eleitores não simpatizam com o empresariado, ele poderá deparar-se com problemas como o escândalo comercial na Société Générale, e a negociata envolvendo o grupo aeroespacial franco-alemão EADS.
A recente proposta de Sarkozy de taxar as opções acionárias pode ser um indicador de que haverá pela frente políticas menos amigáveis para com os negócios.
O que está óbvio neste novo clima é que o protecionismo é uma ameaça mais intensa. Se as empresas forem incapazes de encontrar uma maneira de conter o excesso de pagamento aos seus executivos, a sua legitimidade será questionada e a política de extrair mais impostos do setor corporativo irá se tornar mais atraente. A redistribuição de renda será uma pauta mais importante na agenda política. A reação reguladora à crise de crédito poderá também ser mais extremada e menos ponderada do que normalmente seria, ecoando a experiência da década de 1930, e da lei pós-Enron, Sarbanes-Oxley.
Não se sabe se os mercados detectaram este oceano de mudanças. Até que os países de língua inglesa superem a crise financeira e imobiliária, será impossível afirmar se a mudança de clima é transitória ou se é algo pior. Mas a mudança é real.
*”The Great Crash”, 1929 (Hamish Hamilton, 1955)
**”The Distribution of Top Incomes in Australia”. Australian National University Centre for Economic Policy